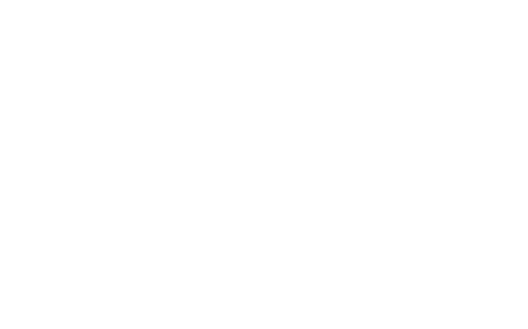Por Chico Mieli
Nem bem caíam no chão da varanda as primeiras migalhas de pão do café da manhã, vinha depressa o Dudu para comê-las com a rapidez e a intimidade daqueles que se sabem passarinhos. Pouco maior que um punho fechado, Dudu, o atrevido, usava do amarelo de seu dorso e asas o atrativo necessário para fazer-se festejado e esperado. Quem lhe dera esse nome? Já não me lembro, provavelmente alguém que percebera que todo ser merece um nome à sua altura.

Alguns achavam que não havia como ser uma só ave, mas sim uma família de Dudus que se aproveitava da ingenuidade de todos para obter o desjejum diário. Mas eu não creio nisso: para mim, era um só Dudu mesmo, companheiro de refeições, anunciando com seu alegre bater das asas amarelas o dia que rompia no horizonte.
Como a dizer: “Vejam, é ele, é ele: o dia. E ninguém me disse, eu vi! O dia raiou.” Nada mais justo que se receber tal anunciação com restos de pão e bolo. É mesmo de uma grande coincidência que a grande casca da noite rompa-se em aurora toda manhã e continue a fazer isso até que o Sol exploda em fogo, enxofre e derradeira, mas estrondosa luminosidade.
Eis que, um dia, Dudu não veio. A princípio, estranhamos que o céu azulasse antes que o conhecido piado nos informasse, como se a Virgem se percebesse grávida de Jesus sem ter sido antes avisada que serviria de invólucro a uma entrega de seus superiores. O fato é que Dudu não voltou mais à nossa varanda. Morreu? É provável que sim, mas prefiro acreditar que achou uma casa maior, com gente que lhe desse restos de melhor qualidade, ou até um café da manhã só seu – passarinhos também devem ter o direito de ascender socialmente.
A mim, só me resta mesmo catar eu as minhas migalhas. E surpreender-me toda manhã com a claridade a romper-se do ovo estrelado que é a noite. Ser pego despreparado pelo nascimento de novos dias. Logo eu, que detesto surpresas.